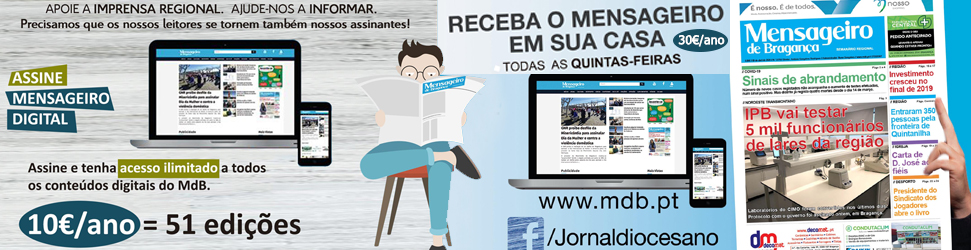D. António Alves Martins, transmontano e bispo de Viseu
Este transmontano, filho de camponeses, nascido em Granja de Alijó, em 1808, e morto em 1882, após 20 anos de bispado em Viseu, dava um romance. Foi combatente pela liberdade, exilado para fugir a D. Miguel e desembarcando com D. Pedro na praia de Pampelido, Mindelo, no batalhão académico de Garrett, Herculano ou Guilherme Centazzi; doutorou-se em Teologia por Coimbra, interrompendo os estudos entre 1828 e 1837, face aos transes políticos da época, em que teve a vida ameaçada pelos esbirros do Absolutismo; foi professor e deputado em seis legislaturas, entre 1842 e 1860, já cónego da Patriarcal de Lisboa e enfermeiro-mor no Hospital de São José (1861-1864), entretanto nomeado bispo viseense (1862) e, por inerência, Par do Reino.
Começou franciscano na Ordem Terceira, com profissão de fé aos 17 anos, e o instinto da pobreza vai acompanhá-lo durante toda a vida, generoso para os outros e para o país, quando aceitou ser ministro do Reino (1868-1871). Mas é, sobretudo, como jornalista que importa rever a sua capacidade de intervenção, em particular nos anos de 1848-1849, quando redactor d’O Nacional portuense, anos em que avançava na Europa a Primavera dos povos, que defende contra as oligarquias. Na política interna, o seu inimigo de estimação é Costa Cabral, que domina uma década de 40 de suspensão de jornais e conhecendo levantamentos da Maria da Fonte e da Patuleia (1846). Nesta, contra as manigâncias de D. Maria II e Saldanha, Alves Martins adere à Junta Patriótica do Norte, derrotada após nove meses de uma guerra civil entre liberais.
Admirado pelos contemporâneos (com rara excepção), bastaria a celebridade fixada por Camilo Castelo Branco, que dele disse ter deixado «uma memória tão sem nódoas, e uma pobreza tão rica de exemplo de virtude». O seu melhor retrato estará em Ramalho Ortigão, que o criticara enquanto ministro, mas, na hora da morte, o honra n’As Farpas. Encontraram-se uma década antes, quando o bispo regressa à Academia das Ciências de Lisboa, onde Ramalho é secretário, mas foi lugar de estudo do jovem franciscano, antes de se passar a Évora e Coimbra. No diálogo travado, sobressai a linguagem de transmontano lídimo, fisicamente poderoso, tolerante com as diferenças de opinião. Ramalho narra incidentes por aqueles vividos na capital e dois momentos fortes: um, em Roma, quando, em 1867, «ele protestou solenemente contra a inscrição fraudulenta do seu nome entre as assinaturas de um documento em que o Pontífice era saudado como infalível e como rei de Roma». O segundo, triste, na hora da morte: «Os diversos senhores bispos sucessivamente convidados a dizer a missa celebrada por alma do bispo de Viseu recusaram-se, segundo consta, a oficiar com tal intenção, fazendo parede para esse fim. Se o senhor bispo de Bragança, de todos o mais débil e o mais doente, se não houvesse prestado à última hora, não haveria prelado para encomendar a Deus a alma do falecido chefe da Igreja viseense.»
Disto, e muito mais, falei na Casa de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Lisboa, ao apresentar A Voz da Liberdade, de Maria Máxima Vaz (Lisboa, Chiado Editora, 386 páginas), que dedica o primeiro terço do livro ao Homem, nos seus vários capítulos de vida; a segunda parte colige escritos daquele diário portuense, bem como do Jornal do Comércio (1858), de entre o milheiro de textos recolhidos pela investigadora. Não devem escassear elogios a obra que nos devolve uma figura ímpar de transmontaneidade, e considero, também politicamente, mais importante do que Teixeira de Sousa (último ministro da Monarquia), António Granjo e tantos outros. Sugeri que o seu retrato deveria constar do acervo da Casa; mais importante, que o seu exemplo fecunde comportamentos, além de obrigar outros estudiosos a prosseguir em reexames e antologias.